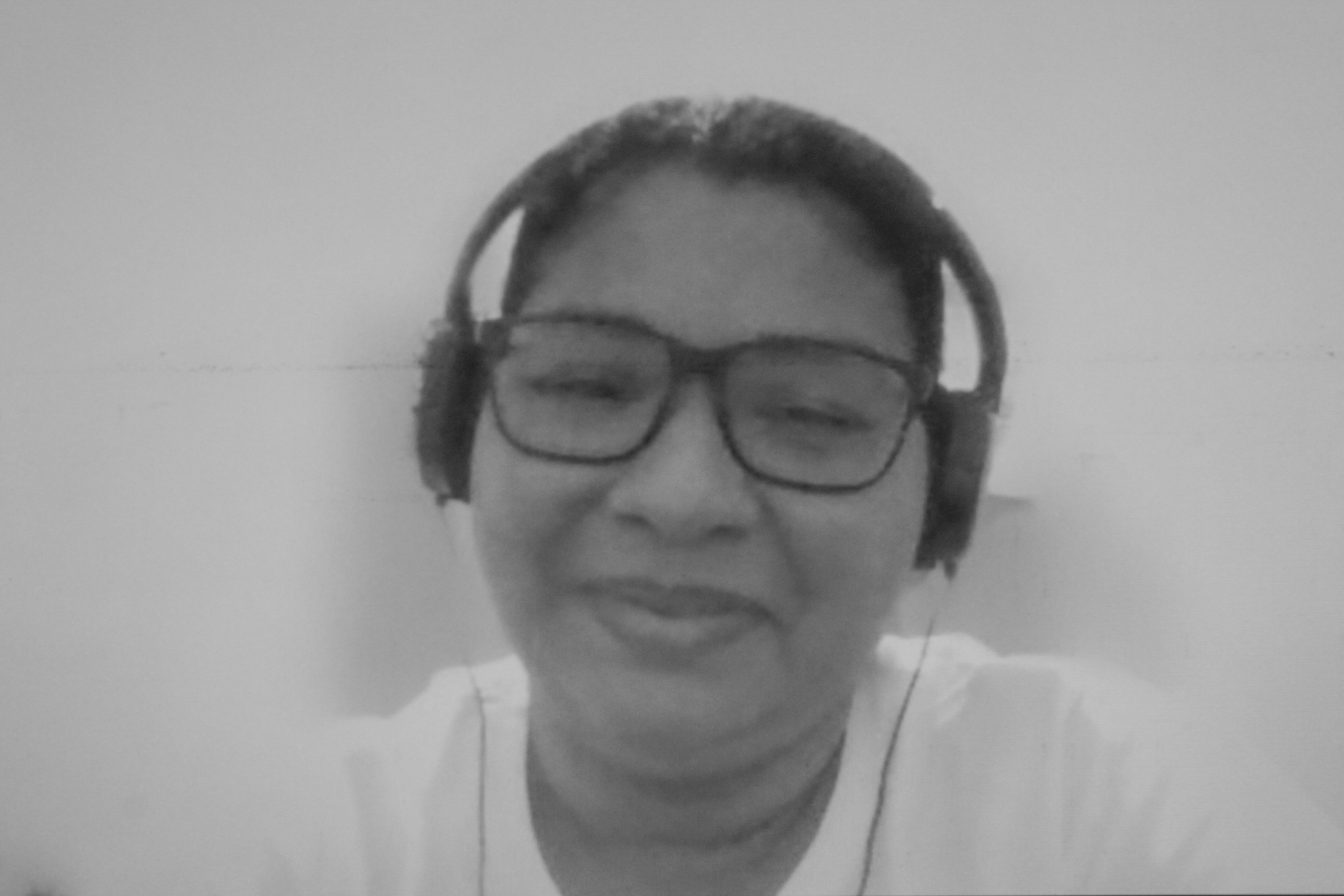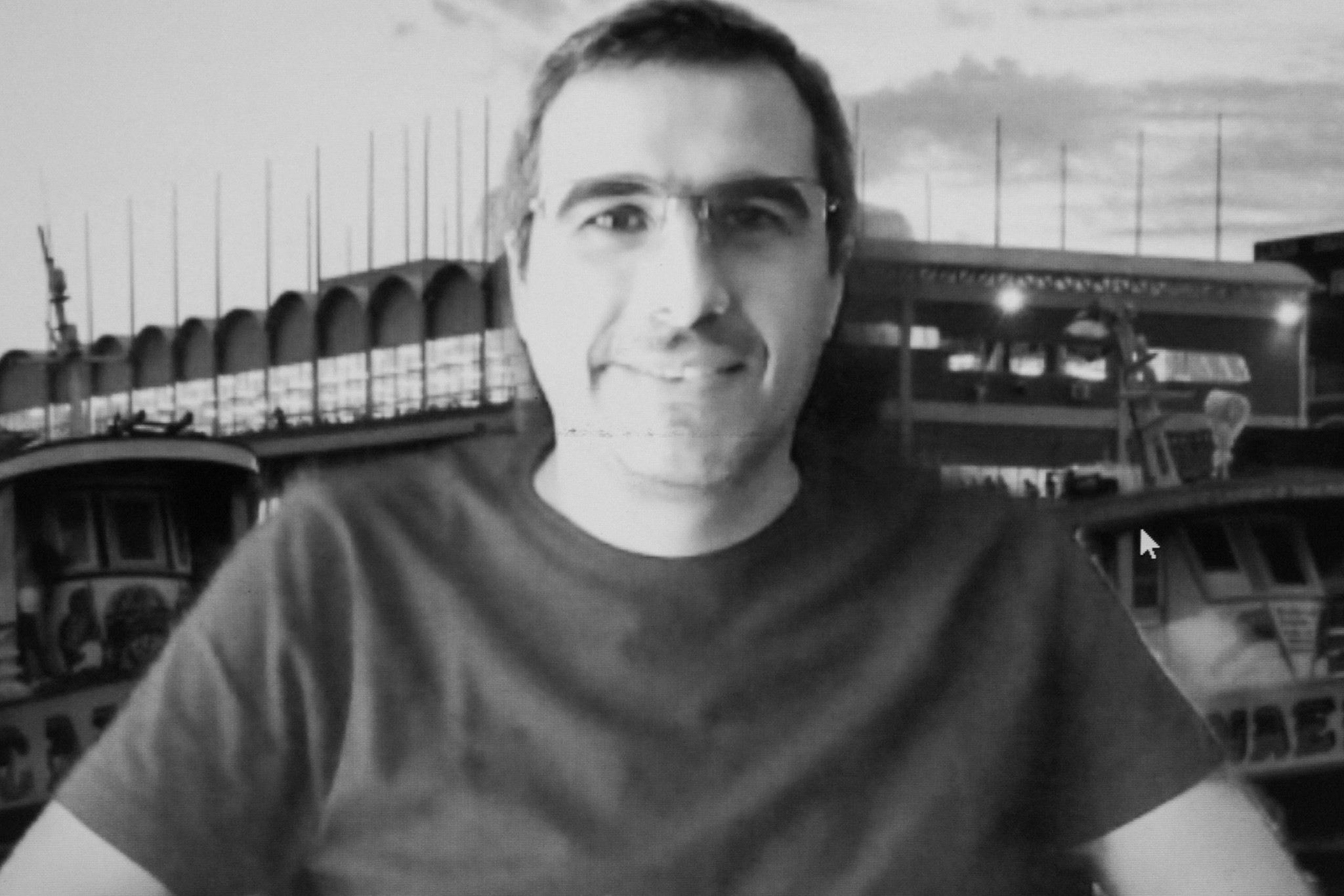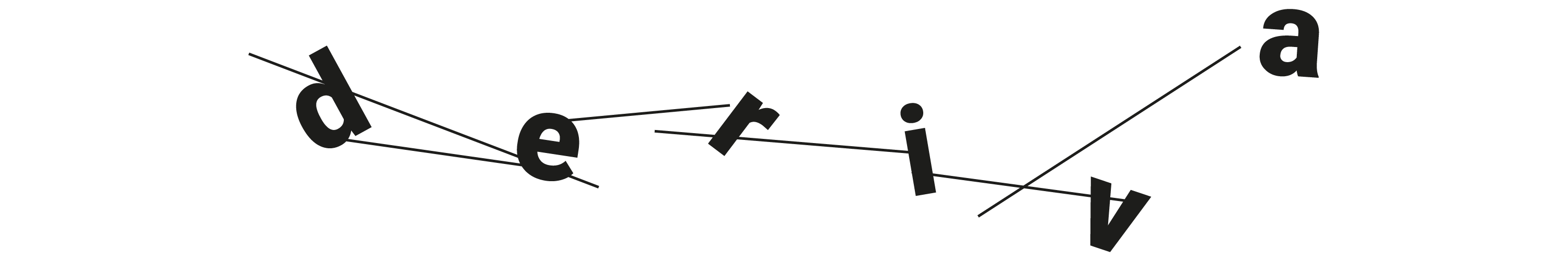
Esta é a terceira publicação da Deriva e, nela, chegamos até Joelma Viana. A jornalista e professora é residente da cidade de Santarém, no Pará, e, de lá, faz a gestão da Rede de Notícias da Amazônia, uma associação de emissoras de rádio que integra as estações regionais, “priorizando o ponto de vista dos lutadores sociais, através da divulgação de suas ações políticas, econômicas, culturais e sociais”, como descrevem.
Mestre em Educação, com a pesquisa voltada à Educomunicação, leciona nos cursos de Pedagogia, Jornalismo e Publicidade e Propaganda da Universidade da Amazônia (Unama), que hoje reúne as Faculdades Integradas do Tapajós (como chamamos ao anunciar o nome da entrevistada na última publicação).
A conversa transcrita abaixo foi resultado de duas entrevistas, uma delas com o arquivo de áudio perdido completamente. Com o acúmulo, pudemos trocar sobre a sua caminhada nos movimentos populares, algumas vivências pessoais e, fundamentalmente, discorrer sobre como a comunicação permeia tudo isso.
[Deriva] Na nossa primeira entrevista, quando eu pedi que contasse um pouco sobre a sua trajetória, você me relatou que antes mesmo de fazer a sua primeira graduação, em Letras, já existia uma relação com a comunicação, que ela começou na Pastoral da Juventude. Esse seria um caminho legal pra gente começar a conversa de hoje, sabendo mais sobre a sua história dentro da Pastoral.
[Joelma Viana] Eu comecei na Pastoral da Juventude com 14 ou 15 anos, mais ou menos, no grupo da comunidade onde eu morava. Onde eu moro, na verdade. Continuo morando lá. Desse participar comunitário, depois eu fui convidada a fazer parte da Pastoral da Paróquia, que é um campo maior que a da comunidade, e de lá fui convidada a fazer parte da diocese.
E aí, nesse percurso da própria Pastoral, a gente fazia essa parte de formação mais nas comunidades. Então a gente viajava muito pras comunidades, principalmente do interior, pra fazer as formações com os jovens. No início, eu ia mais pra ouvir, mais pra aprender como fazer. Depois desse processo, foi o tempo que saiu uma pessoa do programa De Jovem pra Juventude e eles precisavam de alguém pra fazer essa ponte. Como eu escrevia bem, tinha uma boa dicção e tudo mais, fui convidada a fazer parte desse programa. Fazia a produção dele juntamente com mais uma outra pessoa. A gente escolhia um tema a ser trabalhado, geralmente mais voltados à formação sobre cidadania, mais sobre a questão social, e a gente então debatia esse tema dentro do programa. Ele era no dia de sábado, tinha uma hora ou uma hora e meia.
Esse primeiro contato veio daí. Desse andar na própria comunidade e depois ir pra esse meio mais da comunicação. Uma coisa que é interessante, dentro desse processo, é que eu via que, quando a gente chegava na comunidade, as pessoas tinham ouvido o programa. Tinham escutado, debatido sobre o assunto e ficavam imaginando como era cada um de nós, que tínhamos produzido. Era bem engraçado, porque as pessoas que ouvem rádio imaginam quem está “dentro do rádio”, vou colocar essa expressão, de uma outra forma. As pessoas se assustavam quando viam a gente tão pequenininhos, mas fazendo esse trabalho.
Isso foi fazendo com que eu me apaixonasse pela questão do próprio rádio, de como é essa comunicação do fazer radiofônico, [em que] você está num espaço distante, mas você usa um meio pra estar fazendo formação, que era o que a gente fazia por meio do rádio com esse programa.
[D] O programa era veiculado por qual rádio? Lembra?
[JV] É uma rádio da Igreja. Comercial, mas pertence à Diocese, hoje Arquidiocese de Santarém, que é a Rádio Rural de Santarém, onde eu trabalhei durante 14 anos. Esse tempo de carteira assinada, mas já estava lá antes. A minha carteira foi assinada em 2001, mas antes eu já tava lá uns quatro ou cinco anos fazendo esse programa, De Jovem pra Juventude.
[D] Em vários momentos, tanto na última vez que falamos quanto agora, você traz a rádio como parte da sua trajetória. Hoje, a gente acaba vendo esse veículo como secundário ou terciário nos processos de comunicação pelo foco, excessivo até em alguns momentos, que se tem na Internet, mesmo não sendo o meio mais utilizado. A gente sabe da falta de acesso, isso inclusive foi algo comentado nas últimas entrevistas da Deriva, com o Carlos Praxedes e a Ivana Ebel. Qual papel o rádio ocupa no sentido da comunicação popular?
[JV] O rádio faz esse ano 100 anos (a referência aqui é a primeira transmissão radiofônica, que aconteceu no dia 7 de setembro de 1922). Dentro de uma história de um veículo de comunicação de massa, como é o rádio, chegar a 100 anos se reinventando a cada época eu penso que é pra poucos. De toda a trajetória que o rádio tem, desde que surgiu até hoje, ele se reinventou em todos os momentos pra continuar vivo. E, na região amazônica, ele nunca morreu. Ele sempre foi muito vivo, bem mais que a própria TV, bem mais que a própria Internet.
Muitas comunidades da região amazônica só utilizam o rádio. Só tem acesso com ele. Muitas vezes, o rádio era a carta pra mandar informação pra alguém. Tinham muitos programas, e ainda tem emissoras de rádio nessa região que fazem isso, que falavam: “Atenção, Maria, na comunidade Bom Jesus, seu marido avisa que está chegando tal dia” ou “Atenção, fulano de tal, na comunidade Prainha, Josefina avisa que ganhou neném, que está passando bem e é do sexo masculino”. Coisas nesses sentido, que a gente ouvia e que, embora muitos digam: “Ah, isso não existe mais”, ainda existem.
Por exemplo, aqui na região, principalmente Santarém, o rádio foi a primeira escola pra muitas pessoas. Através do Movimento de Educação de Base, o MEB, muita gente aprendeu a ler e escrever. E teve uma formação muito mais do que ler e escrever, mas uma formação cidadã. Até porque era aplicado o Método Paulo Freire, então aprendeu a estar muito mais dentro das organizações, a criar o seu próprio trabalho comunitário, coletivo, por meio desse veículo que é o rádio. A Rádio Rural, onde trabalhei, surge pra ser essa escola. Muitas comunidades ouviam o programa de rádio pra aprender a ler e escrever.
A gente diz: “O rádio já foi escola, hoje ele não educa mais”, mas a gente tem experiência, por exemplo, em Bragança, uma cidade do Pará, onde se tem a chamada Escola Radiofônica de Comunicação. Não é que está ensinando comunicação, mas é uma escola onde se aprende a ler e escrever ou outras disciplinas do currículo escolar, então as pessoas escutam as aulas por meio do rádio. No período da pandemia, muitas Secretarias de Educação acabaram utilizando o rádio pra fazerem as aulas. As crianças estavam em casa, com o radinho ligado, acompanhando as aulas de Português, Matemática, Ciências, Geografia, porque não podiam ir pra escola. Então, enquanto muita gente, em alguns lugares, estava assistindo aulas como a gente tá fazendo hoje esse diálogo, pelo computador, em muitos lugares era com o radinho ligado, porque [se] não tem acesso a Internet, o rádio chega. E chega numa boa qualidade.
Teve um período, em Santarém, que foi, mais ou menos, o último ano que eu trabalhei na Rádio Rural… A gente é uma região cercada de rios, [em] muitas comunidades a gente chega de barco, então a gente tem uma ambulancha, que é pra atender os moradores da comunidade que precisam de atendimento médico. [Se] precisa ser transferido pra cidade pra receber um atendimento médico, então chama a ambulancha pra que se faça esse atendimento. Aí muita gente, que não tinha telefone ou não conseguia ligar pra chamar, como a gente pega o telefone pra chamar o Samu, ligava ou passava mensagens pra rádio pra que ela entrasse em contato com o piloto da ambulancha pra ir fazer um atendimento. Achava isso muito interessante, porque o rádio acabava sendo o telefone.
Quando a televisão surgiu, muita gente disse: “O rádio agora vai acabar porque as pessoas gostam da imagem”, mas tem muita gente que gosta de ouvir. E outra, pra você assistir televisão, você tem que ficar parado na frente de uma tela. O rádio, não. [Com ele,] eu tô fazendo as coisas. Eu posso estar estudando, escrevendo, cozinhando, limpando a casa, dando banho no cachorro… Eu tô ali ouvindo rádio e não preciso parar o que eu tô fazendo. A Internet também, você tem que parar tudo pra poder ter acesso.
O rádio vai se reinventando. Ele foi pra Internet, virou web rádio, virou podcast. Então, só vai ganhando mais proporção. Cem anos, tá velhinho, mas continua mais forte do que nunca.
[D] Nisso, é impossível não falar sobre a Rede de Notícias da Amazônia, da qual é gestora, e mencionar que se decidiu fazer essa interligação da comunicação na região da Amazônia por meio da rádio, justamente por todos os fatores que comentou. Acredita que, além deles, isso possa ter a ver com as tradições orais que os povos tradicionais da Amazônia sustentam?
[JV] Eu penso assim, essa questão da tradição oral, de contar história, de estar ouvindo o outro, a gente tem muito na região amazônica, principalmente [entre] os povos tradicionais. Os povos indígenas e quilombolas têm muito essa tradição de juntar todo mundo e contar história, mesmo que não sejam mais aquelas histórias fantásticas que contavam antigamente, mas contar pros mais novos como surge a comunidade, quem foram os primeiros habitantes, então tem isso.
Quando a gente remota e lembra a história do rádio, no início, as pessoas se juntavam, porque nem todo mundo tinha condições de comprar um aparelho. É engraçado isso, se juntar na frente ou ao redor de um rádio pra ouvir notícia, radionovela, música, concerto. Então, se juntam as duas coisas: a tradição oral, de sentar e contar história um pro outro, mas também de ouvir a programação da rádio. Acredito que, por conta disso, essa tradição continua muito forte.
Quando você faz essa pergunta, eu lembro da mensagem do Papa Francisco esse ano para o Dia Mundial das Comunicações, em que ele diz que mais do que falar, a gente precisa ouvir. O rádio acaba nos dando essa possibilidade, porque a gente precisa ouvir e esse ouvir não é por acaso. Quem faz rádio precisa fazer o outro sentir também. É uma linguagem que vai acariciando os ouvidos, pra que você fique ali cada vez mais conectado, cada vez mais ligado ao que tá sendo falado. Se aquela fala, aquela linguagem, não fizer esse carinho no ouvido, você automaticamente vai desligar.
Na região, quem levanta cinco horas da manhã pra ir pra roça, pra ir trabalhar logo cedo, pra ir pra escola, a primeira coisa que faz é ligar o rádio, [depois] tomar banho, fazer o café, botar a mesa pras crianças. Ele tá ali, fazendo parte da família.
[D] Na nossa primeira entrevista, você também comentou, quando começou a falar sobre a sua história, de uma ligação entre o rádio e a convivência com a sua avó. Se quiser falar sobre isso…
É, quando eu comentei com você sobre isso, eu disse que muito dessa tradição de ouvir rádio, de gostar de rádio, vem muito da minha avó. Na época que eu morei com ela, eu era bem criança. A minha vó levantava cedinho, como eu relatei, [às] cinco horas da manhã, pra fazer café pro meu avô sair pro trabalho e a primeira coisa que ela fazia era ligar o rádio e eu acabava ouvindo aquelas pessoas.
E aí que é uma coisa bem interessante, aquelas pessoas que eu ouvia quando era criança… Por exemplo, tinha um programa que era com o Padre Gérson, que era de madrugada, que ele botava o galo pra cantar, começava a bater panela, dizendo pra todo mundo acordar, pra ir fazer as coisas porque tava na hora de levantar. Quando fui trabalhar na Rádio Rural, eu cheguei a trabalhar com ele. Aquilo pra mim era coisa de outro mundo: a pessoa que você ouviu na sua infância hoje ser seu colega de trabalho.
Não só ele. Por exemplo, eu gosto muito de esporte, gosto muito de jogo. Lá no início, era muito mais eu e o meu irmão. Por ele ser menino e ter muitas brincadeiras de menino, eu seguia as mesmas brincadeiras: empinar papagaio, correr na rua, jogar bola. Então, eu comecei a gostar muito de bola. Tinha um colega que apresentava um programa, que eu também ouvia quando era criança, que era o Ivaldo. Ele apresentava esse programa de esporte e, quando eu fui trabalhar na Rádio Rural, também trabalhei com ele.
Até brincava com ele e dizia assim: “Nossa, como tu é tão novo e eu te ouvia quando era criança ainda?”. Mas [é] porque tem essa coisa de começar muito cedo a trabalhar na rádio. Muitos deles começaram com 16 anos e eram praticamente crianças quando começaram.
Então, [voltando ao assunto,] a minha avó sempre ouvia muito rádio e, em casa, a gente tem essa tradição. O meu pai, quando ele acorda, às cinco horas da manhã, a primeira coisa que ele faz é ligar o rádio. Pra ouvir notícia, pra ouvir o que aconteceu na noite, pra saber o que tá acontecendo na cidade, se tá chovendo, se não tá, como tão as ruas. É pra isso que ele liga o rádio logo cedinho, pra acompanhar. A gente não tem muito essa tradição de levantar e ligar uma televisão, mas tem essa tradição de levantar e ligar o rádio pra ouvir notícia.
[D] Cada vez que conheço um pouco mais da sua história, aparece a figura da Igreja Católica em alguma parte dela. Nos últimos anos, algumas vertentes do cristianismo fizeram com que ele ficasse visto com olhos distorcidos por, pelo menos, uma parte da sociedade. Ao mesmo tempo, a gente sabe o papel histórico que os movimentos cristãos, como das Comunidades Eclesiais de Base, tiveram, por exemplo, no combate à Ditadura Militar e na redemocratização do Brasil. Como você enxerga essa aparente distorção que aconteceu nas últimas décadas?
[JV] Quando a gente olha a história da Igreja Católica no Brasil, a gente vê essa Igreja muito pé no chão. Aquilo que eu te falava na primeira entrevista dessa coisa de andar lado a lado, de pisar no mesmo chão, de estar sentindo o cheiro do povo. A Igreja, dessa época que eu estava mais na Pastoral, era mais pé no chão, de estar junto, acompanhando o que tá acontecendo. A partir do momento que ela vira uma Igreja muito mais orante, vou usar essa palavra, a gente acaba perdendo um pouco esse sentido de pé no chão.
Quando a gente olha, por exemplo, o cenário que a gente vive hoje, muitos dos que trabalham dentro dos movimentos das comunidades da Igreja apoiam um governo que tem, digamos, uma postura muito mais contra tudo aquilo que Jesus pregava.
Eu até achava bem interessante algo que eu li durante a Semana Santa (esta entrevista foi realizada na semana seguinte à Páscoa) que alguém dizia assim: “Como você pode ir pra Igreja e fazer reflexões durante a Semana Santa quando você apoia um ditador, alguém que faria o que fizeram com Jesus?”. Então, a gente perde esse sentido.
Embora a gente tenha ainda muitos organismos, muitas lideranças católicas ou cristãs que estão realmente ligadas a essa defesa dos Direitos Humanos, da pessoa na sua condição de ser humano, a gente tem muita gente que, por um chamado “fundamentalismo religioso” (aspas da entrevistada), muito mais isso, distorce toda essa história [de luta popular] que a gente tem.
Eu sempre digo que o Jesus que eu acredito não é aquele que ficava rezando o tempo todo dentro da igreja, mas é o que chegava nela e derrubava a mesa dos vendedores, daquela turma que tava ali dentro pra vender uma ideia que era contrária a tudo aquilo o que ele pregava. Esse Jesus não é aquele que iria apedrejar uma mulher no meio da rua, como muitos fazem. Hoje, não tem rua, não tem as pedras, mas você vai pras redes sociais e faz todo um discurso de ódio, muitas vezes contra algo que considera ser ilegal dentro da postura que você se coloca.
É muito nesse sentido. Eu vejo muita coisa se perdendo e muita gente diz: “Diante de tudo isso que tu tá vendo, tu não tem pretensão de sair desse trabalho que também faz parte da Igreja?”, [mas] eu acredito que a gente pode fazer a mudança. Se eu realmente quero que as coisas mudem ou que elas, de fato, aconteçam, eu preciso acreditar que essa mudança pode acontecer e ela só acontece se eu também participar. Se não estiver participando, ela não vai acontecer e todo esse discurso de ódio vai acabar se propagando muito mais.
Se eu posso, enquanto no meu papel de comunicadora, utilizar os meios pra levar esse discurso de amor ao próximo, de defesa da vida, contra todo esse discurso do mal, que vem sendo propagado, por que não fazer isso?
[D] Você enxerga essa mudança acontecendo nesses próximos anos?
[JV] Eu penso que sim. Eu penso que muita gente já acordou, embora muitos ainda estejam deitados em berço esplêndido, ainda estejam dormindo. Acredito que possa, sim, acontecer essa mudança e ela vem muito da juventude. Eu fui duma época da juventude que pintou a cara, foi pra rua e tirou o Collor.
Essa rebeldia da juventude tá voltando. Quando falo rebeldia, não falo de revolta. A juventude revoltada é aquela que vai lá, vou usar uma expressão [que já usaram], faz uma baderna e sai de cena. A juventude que se sente mais rebelde não faz baderna, mas ela propõe uma mudança significativa.
Eu vejo essa juventude nascendo mais rebelde, fazendo essa mudança que a gente tá esperando. E que vai acontecer. Eu acredito que sim. Não é possível [que não aconteça], senão eu vou dizer: “Nada do que eu fiz deu certo!”.
[D] Falando nos movimentos populares, na sua especialização em Jornalismo Científico, você desenvolveu um trabalho sobre o Movimento Tapajós Vivo. Eu queria escutar sobre o Movimento, saber se ainda tem ligação com ele ou o que quiser me contar.
[JV] O Movimento Tapajós Vivo, eu fiz parte um tempo, mas acredito muito que, pra gente estar no Movimento, a gente precisa ter estratégias e muitas delas acabam não funcionando como deveriam. Ou porque, às vezes, a gente está mais ali por uma postura de “causar” do que propriamente de promover essa mudança.
Eu penso assim, quando eu vou pra um movimento, preciso pensar quais estratégias eu vou usar pra sensibilizar mais pessoas pra minha causa. Pra eu conseguir que essa minha causa chegue a um número maior de pessoas, [pra] que não seja um grupo menor.
Algo que eu até tinha partilhado com você na última vez, que eu penso muito que se a gente trabalha a comunicação dentro dos movimentos, num sentido de ela ser um instrumento de transformação, a gente consegue muito mais mudanças. Mas, se eu utilizar a comunicação apenas, digamos, de uma forma muito mais agressiva, eu não consigo atingir muita gente.
O Movimento tá aí, ele continua existindo. Eu não faço mais parte, mas ele ainda existe. Faz algumas algumas ações, mas ainda é um grupo muito pequeno, então eu penso que faltam essas estratégias de como agregar e sensibilizar mais pessoas.
A gente tem na cidade várias pessoas que querem defender ou defendem o Rio Tapajós. Não apenas da questão da hidrelétrica, mas agora também a questão do garimpo, que tem uma incidência bem grande. A questão da contaminação por mercúrio também aparece bastante. Então, como é que se junta todos esses grupos e a gente tem um diálogo? O grande problema que a gente tem hoje é que nós temos vários movimentos, mas eu não consigo ver qual é a causa comum.
Se a gente realmente tem uma causa comum, ela junta todo mundo. Se cada um defende a sua ideia, a gente não consegue chegar a uma causa comum e [por isso] a gente tem uma propagação de movimentos que não chegam ao seu objetivo principal. Eu acredito que a comunicação possa ter esse papel importante dos movimentos, [de] entender como ela pode ser utilizada como um instrumento de fortalecimento da luta social.
[D] Quando você fala sobre isso, me veio algo que a Ivana comentou quando indicou o seu nome. Ela mencionou que a Rede de Notícias da Amazônia fez um trabalho de enfrentamento importante durante a construção da Usina Hidrelétrica Belo Monte. Pode compartilhar como foi isso?
[JV] Esse pensamento, [essa] discussão, todo o debate acerca do projeto de construção de Belo Monte, a gente acabou acompanhando. Mas o nosso discurso era bem diferente do discurso que era propagado, vou usar a expressão, pela grande mídia. O que a gente fazia? Ouvia mais quem seria impactado diretamente por aquela obra: os moradores da região, o movimento que estava ali fazendo embate contra o projeto, a Procuradoria da República, que tinha ações bem mais fortes, pesquisadores, que estavam fazendo estudos mais aprofundados acerca do que seriam os impactos da Hidrelétrica de Belo Monte.
O nosso trabalho, no sentido da comunicação, foi de trazer esse outro discurso que não aparecia na grande mídia. Quando se falava sobre o projeto de Belo Monte, [se dizia que] ele iria gerar energia, que ele iria proporcionar tantos Megawatts de energia para todo o Brasil. E a gente dizia, trazendo o discurso dos pesquisadores, que essa fala não seria verdadeira, tanto que isso não aconteceu.
Hoje em dia, quando a gente olha pra Belo Monte, a Usina não gera metade da energia que foi pensada pra gerar, principalmente no período que entra a estiagem, que é quando o rio seca. Ela seria a segunda maior hidrelétrica do Brasil e geraria uma quantidade de energia que atenderia todo o país, [mas] ela não atende. A gente trazia esse discurso, fazendo comparações com outras hidrelétricas que já existiam.
[A gente dizia que] essa hidrelétrica não viria pra ser uma obra que beneficiaria os moradores locais, as comunidades, mas que seria uma obra que atenderia às grandes empresas. Geralmente, quando as hidrelétricas são pensadas, elas são pensadas nesse sentido, pra atender as grandes empresas, esquecendo os moradores locais.
Vou trazer um exemplo aqui do meu município. A gente tem uma hidrelétrica, que é pequena, que é a Hidrelétrica de Curuá-Una, mas tem comunidades próximas a ela não tem energia. São comunidades que ainda trabalham com gerador de luz, que precisam comprar combustível, hoje muito barato (dá uma risada), pra não dizer o contrário, pra gerar energia, enquanto tem uma hidrelétrica que é lá do lado.
O Pará hoje é o estado que paga a energia mais cara do Brasil (segundo dados de 2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica, a conta de luz do Pará é a quinta mais alta do país) e a gente tem aí Belo Monte, Curuá-Una e Tucuruí. É uma energia que é gerada que não é pra gente. Então, quando nós produzíamos as informações, os jornais, as reportagens, as entrevistas, era muito nesse sentido, de mostrar que esse projeto [da UHE Belo Monte], que muitos estavam dizendo que viria pra beneficiar o povo, não iria trazer esse benefício que estava propagado.
Infelizmente, aquela história de dizer que a mídia é o Quarto Poder [não parece ser verdadeira]. Não sei se a gente tem esse grande poder quando se chega a contrapor megaprojetos como esse.
[D] Joelma, você estava falando sobre como a comunicação integrada aos movimentos sociais tem um potencial transformador se ela for bem direcionada, gerenciada e articulada. Além da Rede de Notícias da Amazônia, você vê outros bons exemplos desse tipo de comunicação no Brasil?
[JV] Eu penso que sim. A gente tem outros grandes projetos, que a gente pode chamar de comunicação alternativa, de comunicação popular, que são desenvolvidos no Brasil. A gente tem, por exemplo, a comunicação indígena com uma força muito grande. Ela traz informações do território, que muitas vezes a gente não conhece ou não teve acesso por outro meio, com muito mais precisão.
Eu vou citar como exemplo o relatório que foi produzido pela Hutukara Associação Yanomami (referindo-se ao documento “Yanomami sob ataque: garimpo ilegal na Terra Indígena Yanomami e propostas para combatê-lo”), que foi um relatório produzido por pesquisadores, mas que também tem comunicadores envolvidos ali, que contribuem nesse processo. Quando ele chega à grande mídia, causa um impacto bem grande, por conta das informações que vieram dentro dele.
Na região amazônica, a gente tem outros projetos, [como] o Amazônia Real, que é um grupo de jornalistas, pesquisadores, alguns trabalham [de forma] mais independente, que produzem grandes reportagens acerca de grandes temas e são reportagens mais aprofundadas. É um trabalho mais voltado pra Internet.
A gente tem outros exemplos. O próprio fortalecimento das comunicações dentro dos territórios. Quando muitos jovens saem dos seus locais, se formam na área da Comunicação e voltam pros seus territórios, usando essa linguagem pra fazer a diferença, [esse processo] acaba sendo muito importante.
Quando a gente teve a homologação da [Terra Indígena] Raposa Serra do Sol, muito do trabalho de convencimento que foi feito foi produzido pelos indígenas das comunidades locais. Aprenderam a manejar uma câmera pra fazer filmagem, a produzir textos, como fazer uma entrevista e colocaram isso na mídia, nas plataformas digitais que tinham disponíveis, pra fazer o convencimento, até que conseguiram.
Então, quando você possibilita que as lideranças de movimento, das organizações, se apoderem dessa ferramenta, que é a comunicação, desse instrumento de transformação, você promove mudanças. Essas experiências que vêm se propagando no Brasil, não digo somente na Amazônia, conseguem fazer a diferença.
[D] Durante a conclusão do seu mestrado, vi que fez um curso, pela Associação Católica Latino-Americana e Caribenha de Comunicação, de Práticas Inovadoras de Comunicação para o Bem Viver. Agora, você estava falando sobre a importância da comunicação indígena, então gostaria de escutar o que aprendeu e sobre como pensa o Bem Viver relacionado a isso.
[JV] Quando a gente tá falando do Bem Viver, a gente tá falando de algo que ninguém, até então, tinha prestado atenção, no sentido de dizer assim: “Eu sempre quis algo pra eu viver bem”, que é diferente. Pra viver bem, eu preciso ter um celular, um computador e, quando a gente vai pra esse outro lado, do Bem Viver, é aquilo que eu posso usufruir, sem esquecer quem tá do meu lado. Às vezes, a gente olha muito pra gente e esquece do outro.
Isso me fez, durante esse curso, compreender toda essa trajetória. Primeiro, de entender o que era esse Bem Viver, que é muito difundido pelas populações indígenas latino-americanas, que acabou tendo uma incidência dentro do Brasil. Enquanto eu estava dentro da formação, eu compreendi que aquilo que eu já fazia era uma proposta de comunicação para o Bem Viver.
Quando eu falava, por exemplo, sobre desmatamento dentro da região amazônica, num programa de educação ambiental, e trazia que havia experiências em reservas de comunidades tradicionais da região que conseguiam aliar a sustentabilidade da comunidade com a utilização da floresta, sem destruir, a gente conseguia fazer essa diferença e propagar uma comunicação para o Bem Viver. Você alia sustentabilidade ao meio ambiente. Eu consigo sobreviver sem desmatar, eu consigo tirar o meu sustento sem derrubar nenhuma floresta.
Quando, por exemplo, a gente traz a experiência de alguém que recolhe aquilo que a gente chama de madeira morta, que são as árvores que caem no meio da floresta, e transforma essas árvores em objetos de uso doméstico, um banco que eu vou sentar, uma fruteira onde vou colocar frutas, um pequena estante utilizando madeira morta, [isso mostra que] não é preciso derrubar nenhuma árvore pra pegar aquela madeira e transformar num objeto decorativo que eu vou vender pra alguém.
É essa a proposta e, quando eu difundo isso pra outras pessoas, eu faço essa comunicação pro Bem Viver, dizendo que a gente consegue viver bem, tirar o nosso sustento, sem cortar nenhuma árvore, sem deixar nenhuma animal da floresta sem casa. Eu consigo fazer isso bem, e ainda ter sombra todos os dias.
[D] Tudo isso que falou me faz pensar na última parte que a gente chegou na nossa primeira conversa, que era sobre como essas outras propostas de comunicação, no plural, têm que aparecer desde a formação de novos comunicadores, que acontece nas universidades, pra que elas se permeiem por todos os meios. Hoje em dia, você é docente, através da Unama. Como lida com esse desafio em sala de aula?
[JV] Penso que a gente pode criar outros campos de formação, fugir um pouco do currículo que as universidades nos apresentam, e fazer com que as turmas, os jovens que entram no Jornalismo, vejam essa área a partir de uma outra perspectiva. Eu não vou ser jornalista e ficar rico, ou vou trabalhar na Globo, numa grande mídia. [Não] vou pro New York Times. Quem sabe, né? Pra Reuters! A gente pode fazer essa comunicação diferenciada a partir do lugar onde a gente tá.
Muitas vezes, querendo ou não, a gente tem um discurso dentro das universidades que faz com que o estudante acredite que, ao sair dali, ele vai ganhar espaço ou ter formação suficiente pra estar num espaço de uma grande mídia. E ele pode fazer essa diferença de outras formas.
Por exemplo, eu tenho hoje uma aluna, que eu digo que foi a minha primeira orientanda na Universidade, logo que eu entrei, que trabalha comigo na Rede de Notícias. Ela incorporou essa ideia de que [pra fazer] jornalismo é preciso não só ficar ouvindo, mas sair, botar o pé na lama, ir pra um lugar distante, conhecer a realidade, entender como aquelas pessoas vivem. Ela faz muito isso.
Quando eu olho pra trás, eu digo que eu consegui dar os subsídios necessários pra ela perceber que o jornalismo se faz dessa forma. E não só ela. Ela é só um exemplo que eu trago, mas tem outros jornalistas que já foram meus alunos e hoje fazem esse jornalismo pé no chão. Eu não preciso falar do governo ou fazer um jornalismo chapa-branca pra agradar ninguém. O que eu posso fazer é trazer aquelas vozes ou amplificar as vozes que muitas vezes são esquecidas e que a gente não vê na grande mídia.
O encontro que dá continuidade à série foi provocado por Joelma e continua em chão amazônida. Dessa vez, em Tefé, no estado do Amazonas. O entrevistado na conversa por vir é Guilherme Gitahy de Figueiredo, pós-doutor em Estudos Antrópicos da Amazônia e pesquisador que, entre as suas áreas de atuação, percorre o campo da Antropologia da Mídia. Vamos criar desvios.